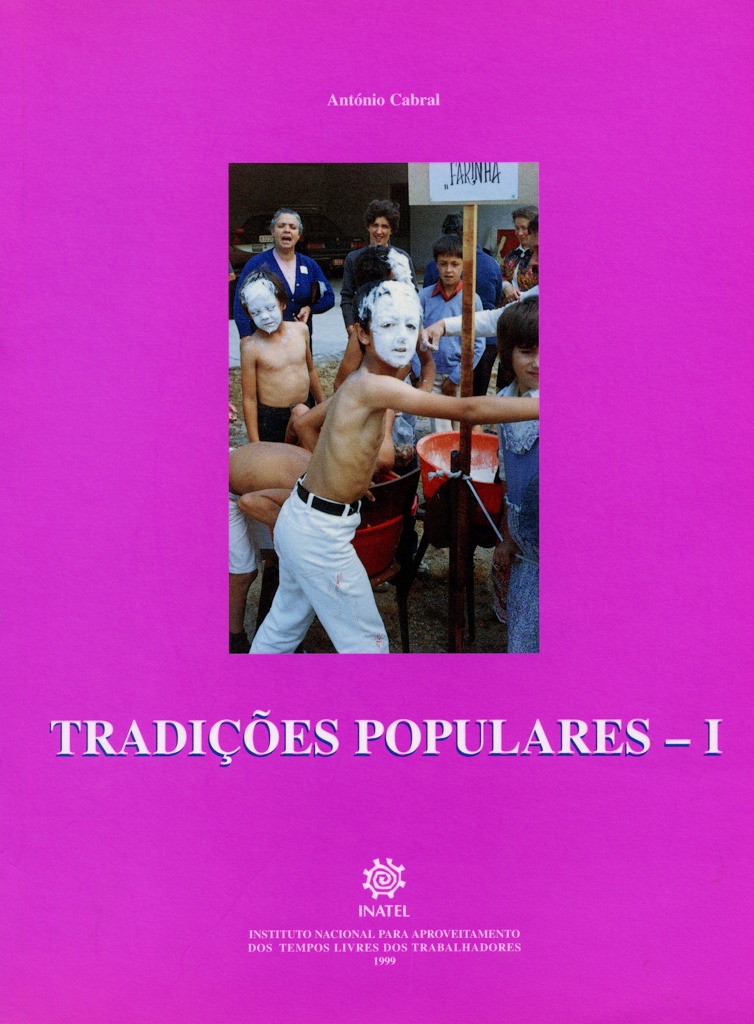“Inquiriram, uma ocasião, de Junqueiro que paisagem portuguesa preferia. Respondeu:
– Prefiro o Buçaco e as praias do Sul. A floresta e o mar são as aproximações do infinito. A floresta é uma oração; o mar uma grande messe de ondas.
– E Barca de Alva, Sr. Junqueiro?
– Barca de Alva é demasiado trágico para mim. A paisagem é dura, escalvada, uma paisagem bíblica em que o Deus que ali fica bem é Jeová!
Meras frases talvez, porque o Douro e a sua região nunca deixaram de revestir para Junqueiro um encanto especial. Quando se sentia fatigado dos homens, refugiava-se nas cepas que ele plantara, um dia, nos socalcos da Batoca, quantas coisas de doce, de amoroso, elas nos contariam acerca do seu sonho!”1
Ora aqui está um texto que me chamou a atenção relativamente ao que para nós, transmontanos e durienses o não, deve significar a nossa terra. A raiva em fuga, motivada por asperezas e intempéries, mas também o sonho que deixamos repartido por montes e vales, nas raízes de uma videira, no tronco gretado de uma oliveira, numa crista de montanha onde o sol nasce, onde o sol desaparece, contornando horas quantas vezes aflitivas e enigmáticas. Uma praia do Sul alivia-nos o espírito como uma viagem além-fronteiras; a terra que nos viu nascer e na qual, nos seus infinitos ramos, a nossa esperança fez o ninho, fecundo ou não, ah, essa terra palpitará sempre no fundo dos olhos, enraizando-se numa alma, por vezes dolorosa. Dolorosamente.
Viesse Junqueiro a Barca de Alva, a Freixo de Espada à Cinta, à Batoca, numa palavra, à sua região, e ficaria hoje revoltado com as ameaças de desertificação humana, com a perspectiva de ter de arrancar as videiras que amorosamente plantou e viu plantar. Tudo em nome de um mercantilismo com que o açúcar de beterraba dos países nórdicos nos quer deserdar. Até o Douro, a mais velha região demarcada do mundo, está sob fogo cruzado.
Aprender um pouco com o espírito indomável do nosso Junqueiro talvez seja oportuno nos dias azarentos que correm. Aprender também com a sua simplicidade.
E, já agora, uma historiazinha que me contaram e em que o célebre poeta está simpaticamente na berlinda. Entrara na estação do caminho de ferro em Barca de Alva, comprando um bilhete de primeira classe. Normal: ele até tinha uma vida económica desafogada e gostava de assentos fofinhos para, corpo descansado, poder alongar os olhos pelas soberbas encostas durienses. Ali pelo Pocinho, surge-lhe na carruagem um revisor que, mesmo antes de lhe pedir o bilhete, lhe impõe a mudança para uma carruagem de terceira.
– Ora essa! – exclamou o Junqueiro. O senhor pelo visto não gosta de mim.
– Vá, vá, homenzinho, levante-se. Toca a andar.
– Não me diga que também me quer prender. Tenha lá pena de mim – prosseguiu o autor de “Os Simples”, com um sorriso a boiar nas palavras, algo irónico.Era de Inverno e viajava com uns socos abertos e capa escura de romeira como um camponês. Enroscava-se modestamente junto da janela do comboio, sítio preferido para a sua festa de olhares. Manteve-se sentado, sempre com um meio sorriso.
– Ou sai a bem ou sai a mal – ameça o revisor.
Até que Junqueiro, perfurando com olhos já sarcásticos o inquiridor, ele que não se dava com autoritarismos, mas ao mesmo tempo condoendo-se daquele homem a quem tinham ensinado a ser estúpido, meteu a mão no bolso e sacou o bilhete.
– Aí tem, meu senhor.
O revisor ficou embasbacado, pois por aquelas bandas eram poucas as pessoas que viajavam em primeira classe. De mais a mais, de socos e capote.
– Como é que o senhor se chama? – perguntou.
– Guerra Junqueiro.
O revisor arregalou os olhos e tirou o boné, em atitude justíssima de reverência.
– Queira desculpar, queira desculpar, senhor poeta! – exclamou, pegando-lhe
nas mãos para as beijar.
Junqueiro, então, levantou-se, esquivando-se ao melado beija-mão, e sacou da mala uma garrafa de vinho velho, que abriu, acabando os dois por beber à saúde da poesia, dos cavadores, das moleirinhas e outros santos do hagiológio junqueiriano.
- In Luís de Oliveira Guimarães, “Junqueiro na Berlinda”, Lisboa, 1952 ↩︎